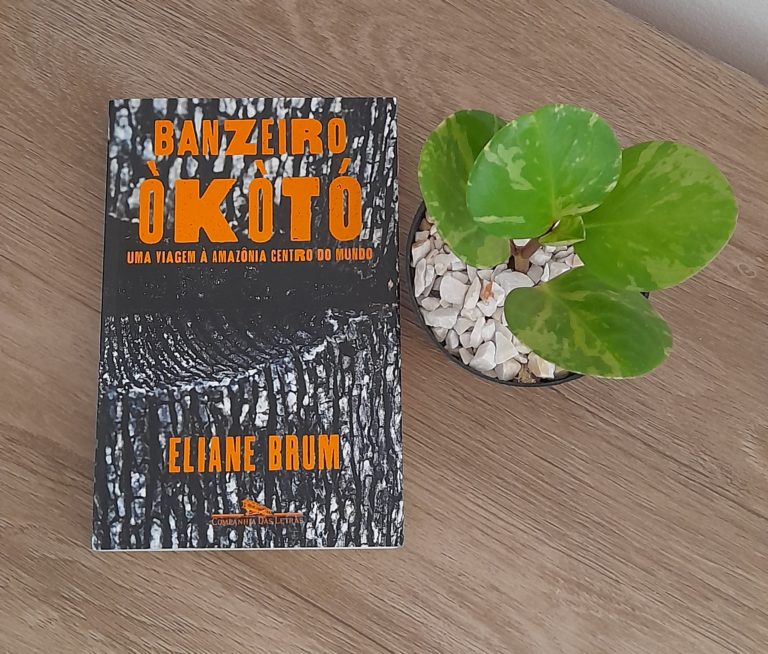Falar sobre um livro, de não-ficção, que provoca, arrebata, assusta e nos obriga a nos deslocar para compreender o que a autora está dizendo é muito difícil. Difícil porque pela primeira vez, não me sinto à altura de falar sobre uma obra tão grande e que contém tantas informações, que me ensinou tanto e principalmente, me trouxe algumas questões que vou levar para a vida: primeiro, aprender a me esvaziar para ouvir o outro e compreender o que ele está dizendo, sem preconceitos, sem as minhas opiniões se sobrepondo às dele. Segundo, seguindo esta mesma toada, o fato de que aquilo que é bom para mim, talvez não seja bom para todas as pessoas do mundo. Cada um deve ser respeitado nas suas escolhas de vida, mesmo que para mim soem bizarras ou sem sentido. E por fim, este livro me trouxe um olhar mais crítico para uma situação criminosa, sobre a qual eu já tinha algum conhecimento, mas sem aprofundamento e que agora, me faz pesquisar mais e me unir ao grupo #liberteofuturo para pensar em soluções possíveis para uma vida decente, onde o respeito e o amor ao próximo vigorem.
Eliane Brum, jornalista brasileira, mulher corajosa, que não tem medo de dizer o que pensa, que “não escreve para agradar o leitor, mas para provocar, para deslocar o leitor do seu lugar” e, para que isso funcione, ela faz esse movimento primeiro, me conquistou já na primeira página de seu livro Banzeiro Òkòtó (Cia das Letras, 2021): “Estranhar é preciso. O que não nos provoca estranhamento não nos transforma”. Houve de imediato uma identificação muito grande com essa pessoa que veio ao mundo para transformá-lo no sentido de nos fazer pensar e enxergar o que está à nossa volta e que nos recusamos a ver. Mais uma vez, como eu disse na minha resenha sobre o livro da Xinran, admiro essas mulheres que denunciam os erros, que nos convocam ao pensamento crítico, que nos obrigam a nos despir dos nossos preconceitos a fim de enxergarmos outras formas de ver o mundo e de pensar o mundo. Mulheres inspiradoras que transformam as pessoas, que dão voz àqueles que querem falar, mas não conseguem e que fazem o verdadeiro jornalismo, aquele que um dia eu quis fazer também.
Em 2017, Eliane Brum resolveu que se mudaria para Altamira, cidade paraense, próxima ao Rio Xingu e à Floresta Amazônica porque sentia o chamado daquele lugar. Ela relata que já tinha visitado a floresta várias vezes antes para ouvir as pessoas e escrever suas reportagens, mas, depois de conhecer grande parte do mundo, ela chegou à conclusão de que a Floresta era a sua casa. Deixou para trás uma vida confortável em São Paulo e enfrentou os desafios de viver em uma das cidades mais violentas do Brasil, onde a lei é feita pelo mais forte: pessoas ricas, criminosos, facções, grileiros e afins. A história desse município brasileiro, ou melhor, a tragédia desse lugar começou na década de 1970, quando o governo federal decidiu que as terras amazônicas não tinham dono e que por isso deveriam ser ocupadas por “pessoas de bem”, com o intuito de levar até lá o progresso e o desenvolvimento. Acontece que eles não consideraram um pequeno detalhe: a floresta era habitada por povos indígenas, por uma população ribeirinha e por povos originários, que Eliane chama de “povos-floresta”.
Essa população foi aos poucos expulsa de suas terras para a cidade de Altamira, local onde as grandes construtoras construíram conjuntos habitacionais de quinta categoria e os despejou ali, como se fossem objetos, tirando dessas pessoas a sua dignidade, a vida que conheciam e amavam, a sua liberdade e muito mais que isso. Em nome do “progresso”, foi construída a Transamazônica, uma rodovia federal transversal de grande porte, inacabada por sua megalomania, que teve as obras iniciadas no governo de Emílio Garrastazu Médici. O objetivo era ligar a Amazônia ao resto do Brasil e permitir a exploração da floresta pelo homem. Posteriormente, foi criado o projeto da Usina Belo Monte, e aí, a desgraça foi total, pois a população que vivia às margens do Xingu foi desapropriada e enviada em massa para Altamira, gerando inúmeros problemas graves a essas pessoas que ecoam diretamente na geração de crianças e adolescentes do presente:
“a barragem roubou o sustento da minha família, meu pai foi assassinado por quem deveria protege-lo, minha avó foi atropelada por um bêbado rico e perdeu metade de um pé, minha tia está escondida para não ser executada por uma facção criminosa, outra tia teve que fugir para não ser morta pelo ex-marido, o tio da minha irmã virou carvão na cadeia” (BRUM, 2021, pág. 221)
Imagine ouvir esse relato de uma criança de dez anos? É estarrecedor e não dá para normalizar esse tipo de coisas. Uma criança dessa idade deveria ter o mínimo de paz para ser criança, se desenvolver, estudar, brincar e não dar depoimentos tão pesados e tão tristes para uma jornalista escutadeira, como se autodenomina Eliane Brum. Agora, imagine que essa avó que perdeu metade do pé, quando foi enterrar o seu filho carbonizado, recebeu uma mensagem de WhatsApp com fotos dos cadáveres de seu filho e dos outros detentos, enviada não se sabe por que tipo de sádico, mas sabe-se que:
“É comum que os corpos sejam fotografados e filmados pela polícia por ‘jornalistas’ que acompanham a polícia ou mesmo pelos próprios agentes, e a imagem distribuída por grupos de WhatsApp. Corpos são coisas quando as pessoas se desumanizam ao desumanizar outras. Para a menina com nome de rua, aquela ‘coisa’ cheia de sangue era pai” (BRUM, 2021, pág. 221)
Essa desumanização começa com o desflorestamento dos “povos-floresta”. Isso acontece quando uma pessoa que pertence à mata, que sempre viveu na natureza, nunca usou dinheiro para nada, aprendeu a compartilhar, a fazer suas roupas, sua comida, trabalhar para comer, plantar, colher, pescar, caçar, convive com os vizinhos em paz e harmonia, confraternizam e trocam as habilidades e produção uns dos outros é violentamente expulsa da floresta e colocada como um objeto em uma cidade como Altamira, para morar em um prédio, sem nenhum palmo de terra para o cultivo dos alimentos, sem emprego, pois o trabalho dessas pessoas lhes foi roubado e dizer-lhes: isso é para o seu bem. O progresso e o desenvolvimento chegaram e você precisa se adaptar, se acostumar com isso porque até agora você não sabia o que é vida. Agora sabe. Porém, Maria Francineide Ferreira dos Santos, de 48 anos discorda totalmente desse ponto de vista:
“Tem casos de pessoas que vêm dessa barragem aí que eles mesmos se isolam a um ponto que nada mais lhes importa. Nem os filhos, nem o alimento, nem o trabalho. Você morre, entendeu? As pessoas não entendem. É uma tristeza que nasce dentro da gente que, por mais que a gente queira tirar ela, tem hora que você não consegue. Isso aconteceu comigo. Então é uma dor terrível. Você quer ficar sempre só, você não quer falar com ninguém. Então isso mata a gente” (BRUM, 2021, pág. 268)
É revoltante pensar que enquanto centenas de famílias como a da Francineide estão sofrendo com o desflorestamento e a desumanização, algumas poucas pessoas, que representam tão pouco em números no Censo, lucram loucamente com o massacre dos outros. Mas esta é uma questão estrutural do Brasil, infelizmente. Nossa história já deixou bem claro que quando as caravelas chegaram em terras tupiniquins, haviam aqui os povos originários, que foram mortos para que os portugueses se instalassem e explorassem as riquezas do Brasil. Posteriormente, dizimaram a população negra que eles mesmos sequestraram e trouxeram para cá. Não satisfeitos com isso, aboliram a escravidão por pura pressão internacional, não por vontade própria, mas, deixaram a população de ex-escravizados à própria sorte, sem emprego, sem teto, sem eira nem beira para que se virassem, gerando em pouco tempo uma população miserável, periférica e incrustando nas pessoas um racismo sem fim e um ódio pelos povos originários e africanos como se eles não fossem nada. Agora, no século XXI, a história se repete em Belo Monte: às custas do genocídio dos “povos-floresta” a usina foi construída em cima de muito sangue, das casas das pessoas, das reservas indígenas e da dignidade de um povo que não está acostumado com tanta agressão gratuita.
Os últimos governos do Brasil facilitaram a legalização de terras roubadas através da grilagem, que deveriam ser preservadas ou que originalmente eram reservas indígenas. Além disso também permitiram os commodities na Amazônia – termo que corresponde às matérias-primas que não se diferem à produção ou de onde vêm e que são avaliadas de acordo com a oferta e a procura do mercado internacional – com o objetivo de injetar recursos na economia e permitir o crescimento e o desenvolvimento econômico do país, mas que custam sempre a vida de muitos ambientalistas, custam também a exploração e a destruição da floresta, a poluição dos rios e o câncer dos “povos-floresta”, que antes da construção da usina não conheciam essas doenças que essas pessoas insistem em levar para a casa desses povos e os obrigam a adoecer para que eles possam acumular mais dinheiro para pagar os seus prazeres sádicos e doentios.
“O Brasil foi fundado pela destruição dos povos originários para usurpar terras e violentar a natureza. Assim, as leis que regulam a propriedade e o uso dos saques foram inventados por quem tomou e violou a floresta. Essa lógica se perpetuou ao longo da evolução do capitalismo. Em outras nações, a sensibilidade contemporânea fez correções de rota. No Brasil, não. Mesmo na história recente, o sistema se reproduz – agora lavado pelo alvejante da democracia” (BRUM, 2021, pág. 332)
Ao longo de todo o seu texto investigativo e com caráter de denúncia, Eliane Brum repete incisivamente que nós não estamos no mesmo barco. A população brasileira comum, que não é milionária, que não possui conglomerados de empresas, que não tem nada em cash para oferecer, está à mercê da própria sorte, nas palavras da Eliane, “navegando em um barquinho de papel”. Já os grandes responsáveis por todo esse caos ambiental e por todo o genocídio dos “povos-floresta” estão em seu barco seguro e, quando o fim se aproximar, eles irão embora e nos deixarão aqui para morrer à míngua e pagar por seus crimes. Isso me lembrou um filme que assisti recentemente que se chama Não olhe para cima. Ele prevê um cenário apocalíptico, fartamente anunciado e negligenciado pelas autoridades por questões de vaidade, de ambição, de narcisismo, de individualismo e, quando percebem que o mundo vai mesmo acabar, os poderosos que ignoraram o perigo fogem em uma nave espacial para colonizar outro planeta. Desculpem o spoiler para quem não assistiu ao filme, mas o trecho de Banzeiro Òkòtó a seguir dialoga diretamente com essa obra de ficção:
“A crença de que a vontade maior de todos aqueles que não consomem é se sentar à mesa do consumo, assim como a crença de que tudo o que uma nação pode querer é crescer infinitamente, como se isso fosse possível, é parte da mentalidade da minoria dominante. Porém, a maioria desses outres, que são chamados de povos originários e comunidades tradicionais, como nos apontam seus anciãos e seus ancestrais, não quer entrar, se tornar eles também devoradores de mundos. O que querem é manter viva a casa à qual pertencem, mas não a possuem nem querem possuir. Querem apenas viver nela e com ela, segundo seus próprios termos. Porque são parte dela, são outres e o mesmo. Como já foi dito neste livro, não estamos todes no mesmo barco – nem mesmo existe esse nós encobridor de assimetrias. A maioria, que não produziu a crise climática, tem apenas um barquinho de papel. Ou a grande canoa que nos conta um Araweté” (BRUM, 2021, pág. 340)
Toda essa situação que salta aos olhos de quem quer ver afeta diretamente a geração de adolescentes e jovens do Brasil e do mundo contemporâneo. Muitos deles falam em suicídio de uma forma lúcida e não romântica como antigamente. Para eles, dar fim à própria vida é parar uma dor que não tem fim, é evitar um futuro que não existe, que lhes foi tomado por uma minoria que explorou o planeta até o limite e agora não sabe o que fazer ou simplesmente não se importa com isso. Essa geração sem futuro, que se sente vazia e impossibilitada de ter esperanças é muito maior que possamos imaginar e Altamira, por toda a sua história trágica, tem um número enorme de suicídio em massa e de mortes desse tipo, principalmente de jovens.
“pela primeira vez o futuro se tornou determinado para muito além da vontade humana – ou pelo menos da vontade do indivíduo, que foi convencido pelo capitalismo a se acreditar no leme de seu destino. Mesmo que a maioria não perceba essa mudança, ela age sobre os corpos, e minha hipótese é de que provoca adoecimento e até suicídios” (BRUM, 2021, pág. 359)
Esse adoecimento em massa tem um nome muito atual: Covid-19. Uma pandemia sem precedentes, matou no Brasil mais de 600 mil pessoas e no mundo mais de 6 milhões de seres humanos. Muitos fazem conjecturas sobre como surgiu esse vírus tão agressivo e letal e se perguntam quando vamos nos livrar dele. O grande problema é que ele é quase a ponta de um iceberg, um teaser do futuro. O covid não vai acabar e se ele acabar, virão outros vírus talvez mais letais que ele para nos incomodar, nos provocar e nos mostrar que a sexta extinção está mais próxima do que imaginamos.
“A disseminação do novo coronavírus apontou o quanto a minoria privilegiada está mais resguardada, por ter mais recursos tanto para se proteger do vírus quanto para combater a doença em caso de contaminação. Todes, porém, são afetados em alguma medida – e a vida piora. A pandemia foi um teaser do que o futuro será” (BRUM, 2021, pág. 359)
E assim seguimos o nosso eterno mito de Sísifo: corremos atrás de não se sabe o que para chegar não se sabe aonde. Carregamos conosco, na visão de Kundera o nosso Kitsch de que o poder e o dinheiro são as coisas mais importantes e legais do mundo, que o consumo exagerado é o que todos desejam, que o progresso é a melhor coisa do mundo e que sem desenvolvimento não chegamos a lugar algum. Infelizes dos nossos filhos e netos. Eles colherão os frutos podres que deixamos para eles: doenças, pestes, um número sem fim de cânceres, poluição, destruição, lixo e o não-futuro, a impossibilidade de uma vida digna. Como nos ensinou Eliane e os “povos-floresta” chega a ser indecente continuar falando sobre o desmatamento da Amazônia, sobre o aquecimento global e não repensar o nosso modo de vida atual. Na verdade, somos todos corresponsáveis por tudo o que está acontecendo, não somos vítimas e sim culpados de alguma forma. O desafio é encontrar o caminho e alguma solução sustentável para tentar minimizar os danos já causados e provocados por nossos antepassados.
Banzeiro Òkòtó tem um significado complexo e muito sensorial. Banzeiro não tem tradução, sendo “aquele que é e só onde é” e Òkòtó é uma palavra de origem ioruba, “é um caracol, uma concha que cônica que contém uma história ossificada que se move em espiral a partir de uma base de pião”. Dessa forma, ela descreve o Banzeiro como uma espécie de jangada que leva as pessoas pelo rio até a margem. A travessia do rio no Banzeiro é descrita de uma forma intrínseca, visceral, que creio eu, apenas vivenciando a experiência pode ser explicado. Eliane diz que o título de seu livro seria “o òkòtó que a cada revolução, amplia-se mais e mais até converter-se em uma circunferência aberta para o infinito. Amazônia centro do mundo é banzeiro em transfiguração para òkòtó” (BRUM, 2021, pág. 338)
É um título potente para uma obra mais que potente e que precisa ser lida com urgência para que cada vez mais tenhamos novos integrantes no nosso barquinho de papel que balança à deriva desse rio imenso que é a vida. Ao longo de sua jornada na Amazônia, não apenas a atual, mas de todas as outras vezes em que ela esteve por lá, Eliane ouviu as pessoas e contou suas histórias. Mostrou como a escuta é importante e como levar às pessoas a ajuda de que precisam é valioso:
“Eu achei que nunca contava esse segredo para ninguém. Nunca tinha falado do meu passado para ninguém. E ontem contei para a psicóloga. Foi como arrancar um prego podre das minhas entranhas. Hoje eu acordei às quatro da manhã, como sempre, mas eu estava liberta. Eu não tenho o que comer e carrego uma carga muito pesada por conta do que aconteceu com a gente por causa desse Belo Monte. Mas hoje eu acordei pesando uma grama” (BRUM, 2021, pág. 269)
Por ser escutadeira e observadora, Eliane percebeu a necessidade de uma intervenção psicológica na comunidade de Altamira. Convocou profissionais da área dispostos a ir até lá e trabalhar com essas pessoas, o que foi feito e surtiu o efeito supracitado. A importância dos não-ditos é fundamental para que possamos compreender o outro e saber o que fazer para verdadeiramente ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Ela disse em entrevista que as suas melhores reportagens nasceram do espanto e que seus textos, principalmente seus livros são frutos desse espanto. Achei isso muito precioso porque mais uma vez, me identifico muito com essa fala e com esse sentimento de tentar mostrar aos outros aquilo que tanto me chocou e me transformou.
Finalizo essa resenha com parte do prefácio do livro de Eliane Brum, O olho da rua que diz assim: “Sou alguém que tenta viver o tempo todo duvidando das certezas, das minhas certezas e das alheias, por isso estou sempre em carne viva”. E esse é mais um recado que Banzeiro Òkòtó nos deixa: tenhamos sempre dúvidas sobre as nossas certezas.
P.S.: No dia 5 de junho de 2022 foram executados no Vale do Javari o indigenista Bruno Pereira e o jornalista colaborador do The Guardian Dom Phillips. O motivo da execução foi a tentativa dos dois de impedir e denunciar a pesca ilegal na Amazônia. Os atiradores estão presos e a investigação continua. Não podemos permitir que coisas desse tipo aconteçam no Brasil. É preciso gritar bem alto e exigir que algo seja feito a respeito desses homicídios, os culpados precisam de punição e as execuções nas pseudo “terras de ninguém” não podem ser toleradas.